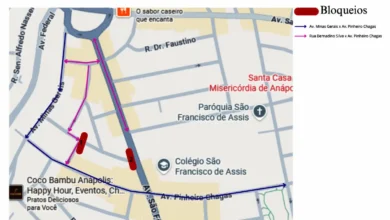O Brasil Nunca Foi Uma Democracia
A história de uma ficção política à luz da dignidade humana
“A democracia só é possível se a dignidade da pessoa humana é respeitada.” — Gustavo Corção

Essa frase, de clareza moral irrefutável, é o filtro pelo qual toda a história do Brasil deve ser lida.
Não como construção cívica, mas como denúncia.
Não como retórica constitucional, mas como realidade social. Desde o seu início como colônia, o Brasil foi, em sua essência, um país sem povo — ou melhor, com um povo sistematicamente excluído da soberania.
Sob esse critério, o de Corção, nunca houve democracia por aqui.
Fala-se muito em democracia no Brasil. Invoca-se a palavra como mantra cívico, como salvaguarda moral, como fundamento da ordem institucional.
Mas raramente se pergunta o que significa, de fato, democracia. O conceito, em sua origem grega (demos = povo; kratos = poder), implica soberania popular — governo exercido direta ou indiretamente pela coletividade.
No entanto, a modernidade aperfeiçoou o conceito.
Democracia passou a ser associada a direitos civis, liberdade de expressão, acesso à informação, instituições representativas e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana.
A definição proposta por Gustavo Corção, à margem da tradição liberal, é a mais profunda e desafiadora: não há democracia onde a dignidade humana é violada.
E em se plantando, tudo dá.
— Pero Vaz de Caminha, 1500
Foi com esse tom quase encantado que se batizou o Brasil, na famosa carta de Caminha ao rei de Portugal.
Mas o que ali se descrevia como terra abençoada pela natureza logo se revelaria maldita pela estrutura social.
Aquela terra generosa, que dava frutos, águas, pássaros e promessas, jamais seria cultivada para o povo que nela vivia.
O que se plantou de fato foi o domínio, a servidão e o esquecimento.
A democracia, já naquela aurora, era impossível: não havia “demos”, apenas senhores e servos; não havia “kratos”, apenas coroa e açoite.
Desde sua origem, o Brasil foi concebido como território de exploração.
A colonização portuguesa implantou um modelo extrativista, baseado na monocultura, no latifúndio e na escravidão.
A dignidade humana foi negada aos indígenas — dizimados, escravizados ou “catequizados” à força — e aos africanos, tratados como mercadoria.
Como bem apontou Caio Prado Júnior em Formação do Brasil Contemporâneo, o projeto colonial não visava constituir uma sociedade autônoma, mas servir aos interesses comerciais da metrópole.
Havia um Estado, havia uma Igreja, havia até universidades em Portugal — mas não havia povo soberano no Brasil.
Apenas senhores e escravos.
Ainda assim, mesmo nas brechas da opressão, surgiram resistências.
Os quilombos — como o de Palmares —, as irmandades negras, as revoltas camponesas e o sincretismo religioso formaram núcleos de cultura e identidade próprios.
E intelectuais como Padre Antônio Vieira,
embora clérigo da Corte, deixaram críticas fortes à hipocrisia de um cristianismo que abençoava o tráfico humano.
Vieira denunciava que os que vêm buscar cristãos, vêm buscar escravos.
No final do século XVIII, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, ambos influenciados pelo Iluminismo europeu, refletiam em suas obras sobre o sentido de justiça, liberdade e humanidade — ainda que muitas vezes presos às categorias da metrópole.
A poesia dos inconfidentes traduzia a aspiração difusa de um país mais justo, ainda que suas ideias estivessem restritas a uma elite letrada e ilustrada.
Sonhavam com liberdade, mas essa liberdade ainda era mais estética do que política — mais literária do que social.
A Independência de 1822 foi uma separação entre tronos, não entre povos.
Como disse Oliveira Vianna, grande pensador conservador do início do século XX,
a independência do Brasil foi feita pelos proprietários de terras para manter seus privilégios, não para libertar os homens.
Império manteve o voto censitário, a exclusão social, a escravidão e o latifúndio.
Entretanto, sob Dom Pedro II, o país conheceu certa estabilidade institucional, liberdade de imprensa e estímulo à cultura.
O imperador era austero, culto e progressista à sua maneira.
A abolição da escravidão, em 1888, assinada pela Princesa Isabel, marcou um ponto de inflexão simbólico.
Mas como denunciava Joaquim Nabuco,
abolir a escravidão sem preparar o liberto é manter a injustiça sob outro nome.
O Império caiu em 1889 por meio de um golpe militar.
O povo, mais uma vez, não foi consultado.
Apenas trocou-se o manto real pelo fardão positivista.
Com a Proclamação da República, iniciou-se a chamada República Velha — um regime travestido de civilidade, mas comandado pelas oligarquias rurais.
Os presidentes eram escolhidos por acordos entre elites estaduais (a “política do café com leite”) e garantidos pelos coronéis, que controlavam os votos dos camponeses analfabetos com promessas, ameaças e fraudes.
Como descreve Raimundo Faoro em Os Donos do Poder,
o Brasil foi governado por um estamento burocrático que substituía o povo pela máquina:
O Estado é o senhor, e a política, seu jogo interno.
A democracia era um teatro com resultados previamente acordados.
E quando o povo ousava agir fora do script institucional, era esmagado. A Guerra de Canudos (1896–1897), descrita por Euclides da Cunha em Os Sertões, foi um massacre cometido em nome da ordem republicana.
Quase 30 mil sertanejos foram assassinados por se recusarem a aceitar a autoridade de um Estado que nunca os protegeu.
O mesmo padrão se repetiria na Guerra do Contestado (1912–1916), com camponeses exterminados a mando das oligarquias.
A Revolução de 1930 levou Getúlio Vargas ao poder.
Embora tenha promovido leis trabalhistas, industrialização e uma ampliação formal dos direitos sociais, o regime que criou — sobretudo após o golpe de 1937 — foi ditatorial.
O Estado Novo eliminou partidos, centralizou o poder e perseguiu adversários.
Como analisou Carlos Lacerda,
Getúlio era um ditador de massas, um mestre da manipulação simbólica.
Por outro lado, figuras como Gilberto Freyre viam em Vargas um reconciliador do Brasil arcaico com o moderno.
Seja como for, a dignidade humana continuava tutelada:
só era reconhecida se útil ao regime.
A breve redemocratização entre 1946 e 1964 trouxe um sistema multipartidário, liberdade de imprensa e eleições.
Mas não trouxe justiça social.
Como advertiu Victor Nunes Leal em Coronelismo, Enxada e Voto, o poder político continuava ancorado em estruturas locais de dominação, e o voto, embora secreto, era amplamente manipulado.
Os presidentes se sucediam entre crises: o suicídio de Vargas (1954), a renúncia de Jânio (1961), o cerco a Jango (1964).
O povo assistia de longe. As massas foram chamadas às urnas, mas não ao poder.
O golpe militar de 1964 instalou um regime autoritário que duraria 21 anos.
O Congresso foi fechado, os partidos reduzidos a dois, a censura tornou-se norma.
Porém, não se pode romantizar a oposição: os grupos armados que resistiram à ditadura — como VAR-Palmares, ALN, MR-8 — não lutavam por democracia, mas por revolução socialista. Inspirados por Cuba, China e URSS, queriam substituir uma tirania por outra.
Os militares, por sua vez, prometeram ordem e progresso, mas criaram um “milagre econômico” baseado em dívida externa, concentração de renda e repressão.
Continuaram a governar com as oligarquias estaduais, como sempre, e negligenciaram a cultura e a educação.
Deixaram que a esquerda ocupasse escolas, universidades e meios culturais, o que geraria, nas décadas seguintes, uma nova geração de líderes — os “justiceiros sociais” — que transformariam a redemocratização em um novo pacto de castas, agora sob outra ideologia.
Com o fim da ditadura e a Constituição de 1988, abriu-se a era da Nova República. Surgiram os direitos sociais, os novos partidos, a ampliação do sufrágio.
Mas os vícios estruturais permaneceram.
O Estado continuou patrimonialista, os partidos se transformaram em máquinas de extorsão institucionalizada, e as eleições passaram a ser disputadas com marketing, verbas estatais e controle da informação.
O mensalão, o petrolão, os conluios entre judiciário, empreiteiras e partidos revelaram a podridão do sistema.
A política se profissionalizou e cristalizou uma nova casta dirigente. O povo voltou ao seu lugar habitual: o de plateia.
Hoje, os tribunais assumem funções legislativas, censuram, prendem, bloqueiam, intimidam — sempre em nome da democracia.
O ministro Alexandre de Moraes tornou-se símbolo de um Judiciário absoluto, sem freios nem contrapesos.
A contagem de votos, embora eletrônica, é opaca.
Auditorias são vistas como ameaças.
E toda crítica é rotulada de ataque às instituições.
A democracia, conceito sagrado, virou pretexto para justificar abusos.
Para muitos, democracia é quando o seu candidato ganha.
Para outros, é quando a sua visão de mundo é imposta à força.
A palavra virou escudo de ideologias, não descrição de realidade.
Foi usada para justificar massacres (Canudos), repressões (Estado Novo), censuras (ditadura), corrupção (Nova República) e perseguições atuais.
O conceito foi sequestrado.
Gustavo Corção estava certo.
Onde a dignidade humana é violada — seja pelo chicote, pela fraude, pela tortura, pela mentira ou pela toga — não há democracia.
Há farsa.
O Brasil, em toda a sua história, nunca pertenceu ao povo. Foi governado por castas, por interesses, por aparelhos.
Enquanto a dignidade humana não for o centro da vida pública, toda fala sobre democracia será apenas mais um capítulo da nossa longa tradição de autoengano institucionalizado.
RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO
As idéias e opiniões expressas em cada matéria publicada nas colunas ou no conteudo de política, são de exclusiva responsabilidade do JORNALISTA, não refletindo, nescessariamente, as opiniões do editor e do Portal 7Minutos.
Cada opinião tem a responsabilidade jurídica por suas matérias assinadas.
O 7MINUTOS se responsabiliza apenas pelas matérias assinadas por ele.
Por: Rodrigo Schirmer Magalhães
Cientista Político
Siga o ‘ 7Minutos’ nas redes sociais
X (ex-Twitter)
Instagram
Facebook
Telegram
Truth Social